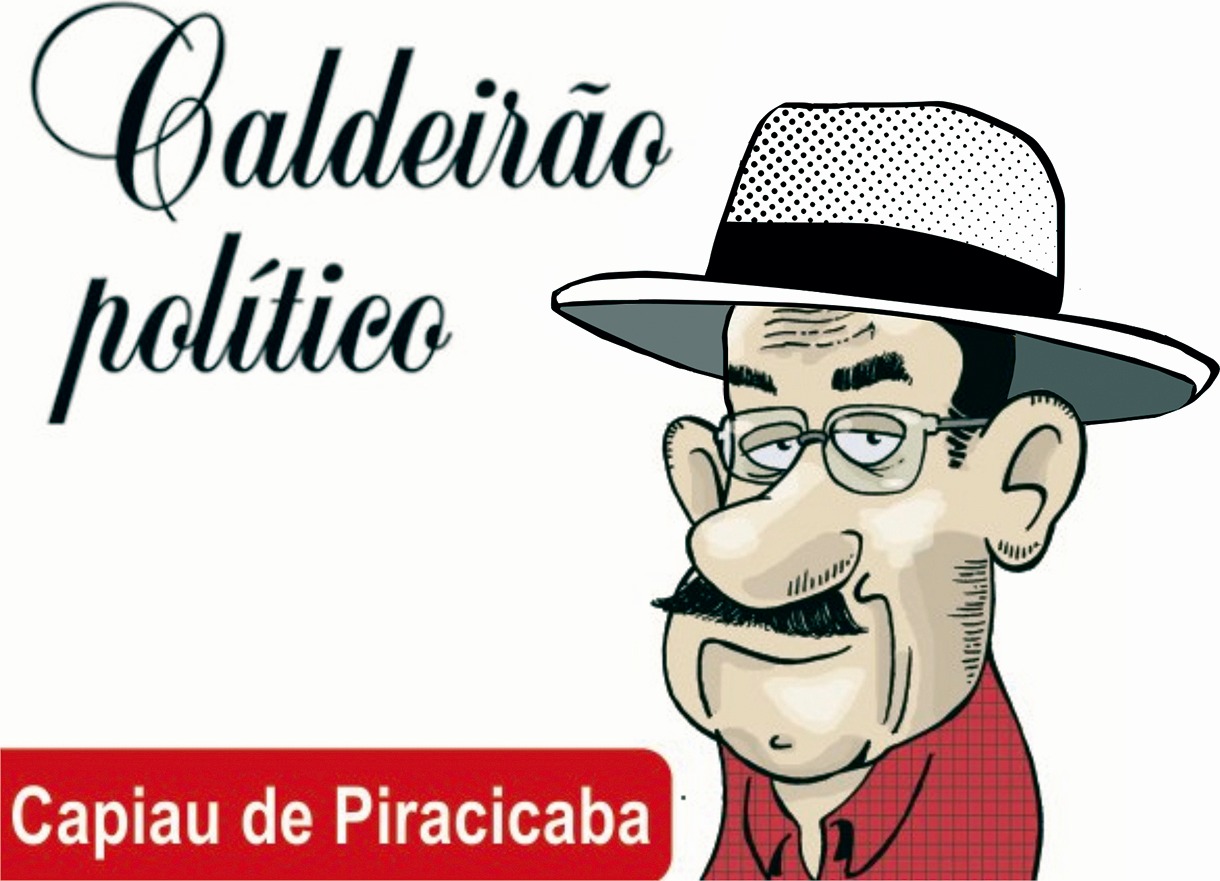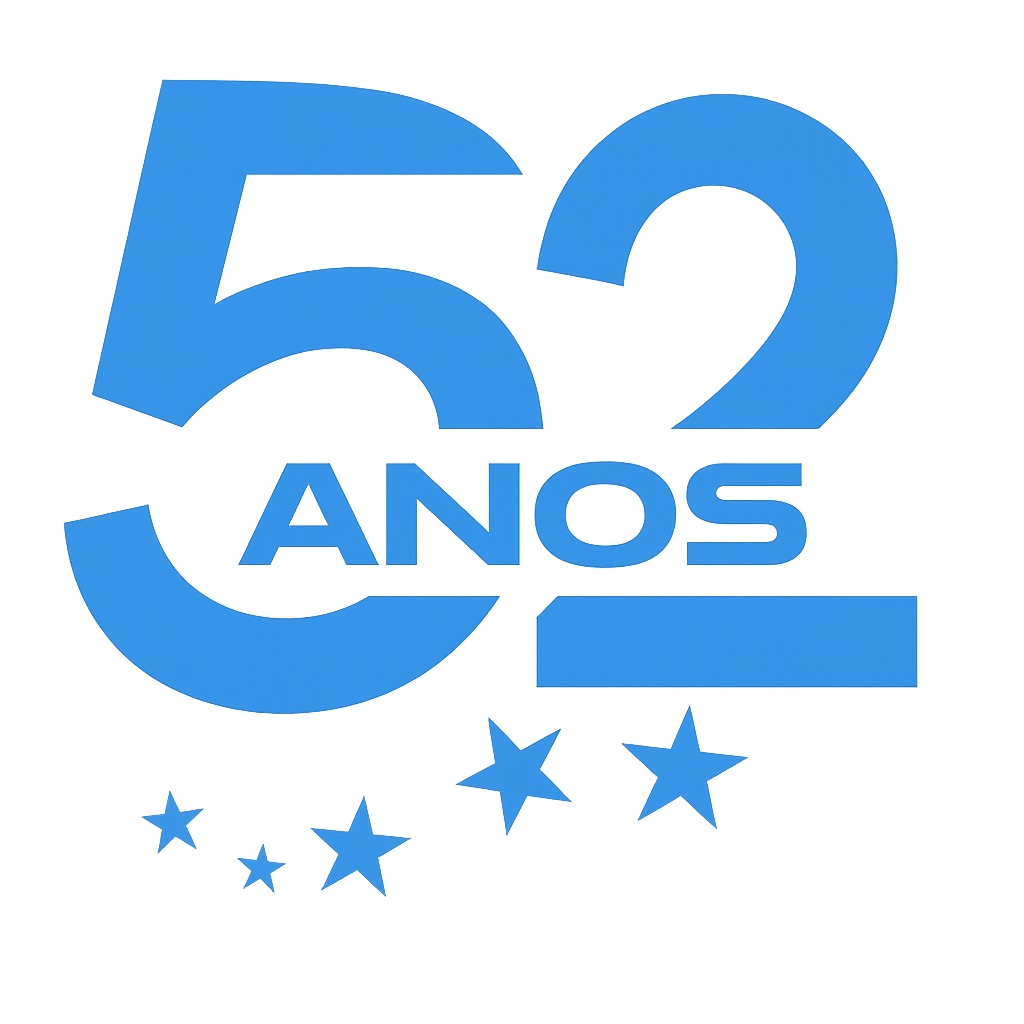Ricardo Freyre Castro
O fim do Estado Novo, em 1945, inaugurou uma nova etapa da história política brasileira. Após quase uma década de autoritarismo, o país reencontrava o caminho da democracia. As forças sociais que haviam sido contidas durante o regime varguista voltaram à cena, reivindicando participação, direitos e voz. O período entre 1945 e 1964 seria marcado por intensa efervescência política, econômica e cultural — uma época em que a esquerda buscou redefinir seu papel num país que se modernizava rapidamente, mas permanecia profundamente desigual.
O primeiro grande movimento dessa nova fase foi a reorganização do Partido Comunista Brasileiro (PCB), legalizado em 1945. Beneficiado pelo prestígio da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, o partido atraiu intelectuais, operários e setores da classe média urbana. Nas eleições de 1947, elegeu catorze deputados federais e o senador Luís Carlos Prestes. No entanto, a Guerra Fria logo alterou o cenário. Sob pressão dos Estados Unidos, o governo Dutra cassou o registro do partido e iniciou uma política de repressão às organizações comunistas.
Mesmo na clandestinidade, o PCB manteve influência sobre o movimento sindical e estudantil. A partir dos anos 1950, o partido adotou uma linha mais nacionalista e gradualista, defendendo uma “revolução democrática e anti-imperialista”, que deveria ocorrer por meio de alianças amplas, e não por insurreição armada. Essa estratégia o aproximou de setores progressistas das Forças Armadas, de sindicatos legalizados e de movimentos de trabalhadores rurais.
Paralelamente, surgiam novas formas de militância política e cultural. A esquerda se diversificava, incorporando correntes ligadas ao catolicismo social, à juventude universitária e ao nacionalismo desenvolvimentista. As ideias de justiça social deixavam de ser exclusividade do marxismo e passavam a inspirar um projeto mais amplo de país.
O governo Juscelino Kubitschek (1956–1961) simbolizou esse novo espírito. Seu lema “Cinquenta anos em cinco” expressava o otimismo de uma sociedade que acreditava no progresso e na industrialização como caminhos para o futuro. Embora não fosse um governo de esquerda, o projeto de nacional-desenvolvimentismo criou as bases para um diálogo entre Estado e setores populares. A criação de Brasília, a expansão da indústria automobilística e o incentivo à infraestrutura alimentaram um sentimento de transformação nacional, ainda que as desigualdades persistissem.
Nesse período, os sindicatos urbanos consolidaram-se como atores centrais. As greves se multiplicaram e os trabalhadores começaram a exigir não apenas melhores salários, mas também participação política. O Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), fundado em 1962, unificou diferentes categorias sob uma pauta comum de reformas estruturais. O campo também se mobilizou: as Ligas Camponesas, surgidas em Pernambuco, lideradas por Francisco Julião, organizaram milhares de trabalhadores rurais em defesa da reforma agrária e da ampliação de direitos.
O ambiente político, contudo, era tenso. A renúncia de Jânio Quadros, em 1961, mergulhou o país em crise. A posse de João Goulart, vice de Jânio e herdeiro do trabalhismo varguista, só foi possível após intensa negociação, que instaurou um breve regime parlamentarista. Quando o presidencialismo foi restabelecido, em 1963, o governo de Goulart buscou implementar as chamadas Reformas de Base — um conjunto de medidas que incluía a reforma agrária, tributária, urbana e educacional.
Essas propostas polarizaram a sociedade. Enquanto os setores populares viam nas reformas um passo essencial para democratizar o país, as elites econômicas e parte das Forças Armadas as interpretavam como uma ameaça comunista. O acirramento ideológico, a inflação crescente e a pressão externa dos Estados Unidos — que, sob o contexto da Guerra Fria, temia uma “nova Cuba” no continente — criaram um clima de instabilidade.
A esquerda brasileira, por sua vez, encontrava-se dividida. O PCB mantinha sua estratégia reformista, enquanto grupos menores, inspirados pela Revolução Cubana, defendiam a luta armada. Entre a institucionalização e a insurgência, a esquerda buscava um caminho próprio, num país que parecia oscilar entre o sonho de justiça social e o medo do radicalismo.
O golpe militar de 1964 pôs fim a esse ciclo de experiências democráticas e interrompeu brutalmente o processo de reorganização das forças progressistas. No entanto, as duas décadas que o antecederam deixaram um legado duradouro: consolidaram o sindicalismo moderno, ampliaram a consciência política das classes trabalhadoras e introduziram, de forma definitiva, o debate sobre reformas estruturais na agenda nacional.
A redemocratização de 1945 e as novas esquerdas que floresceram até 1964 mostraram que a democracia brasileira é frágil, mas também resiliente. Cada conquista social, cada direito reconhecido, foi resultado de longas lutas e contradições. A memória desse período continua a inspirar movimentos que, mesmo diante de rupturas autoritárias, insistem em reconstruir o país pela via da participação popular e da justiça social.
Ricardo Freyre Castro, cronista e ensaísta, escreve sobre política, história e sociedade, com foco nos dilemas da democracia e nas transformações sociais do Brasil e da América Latina