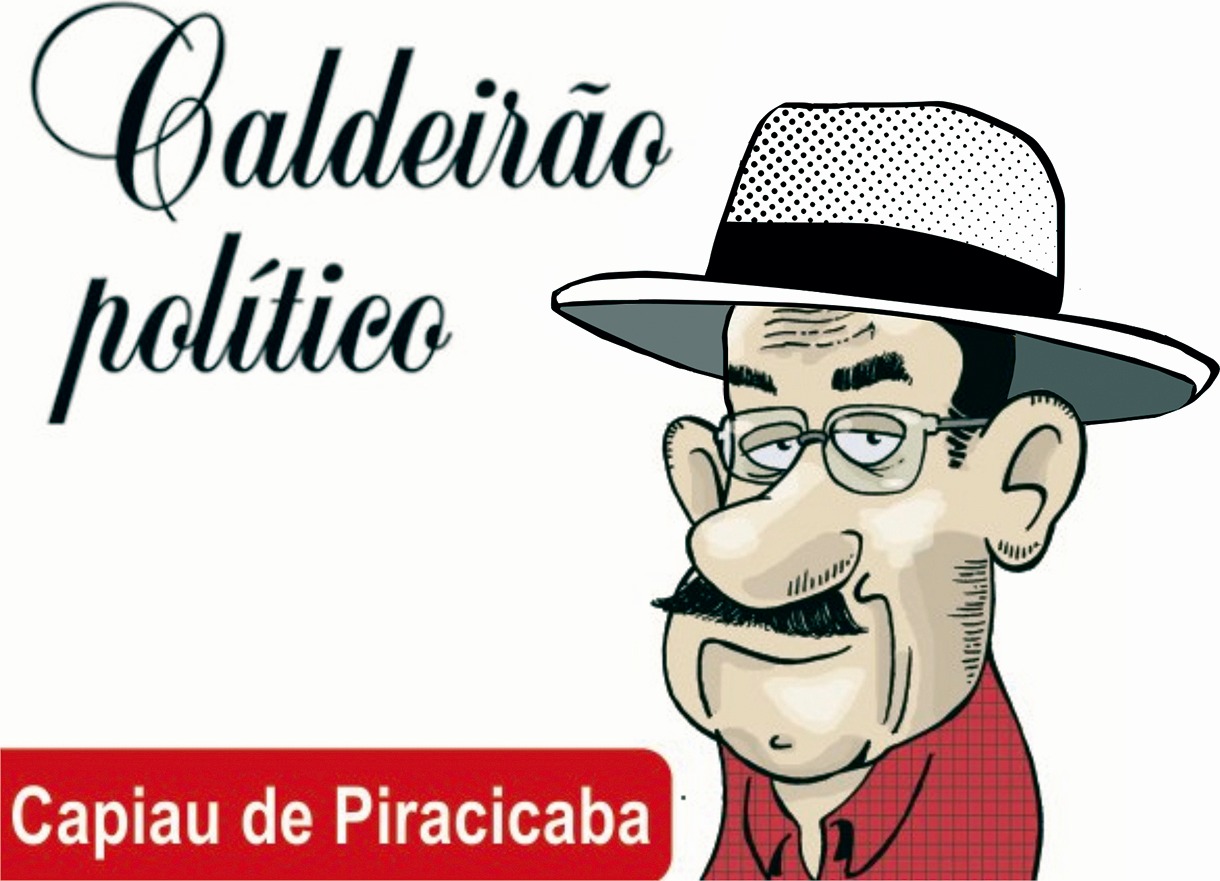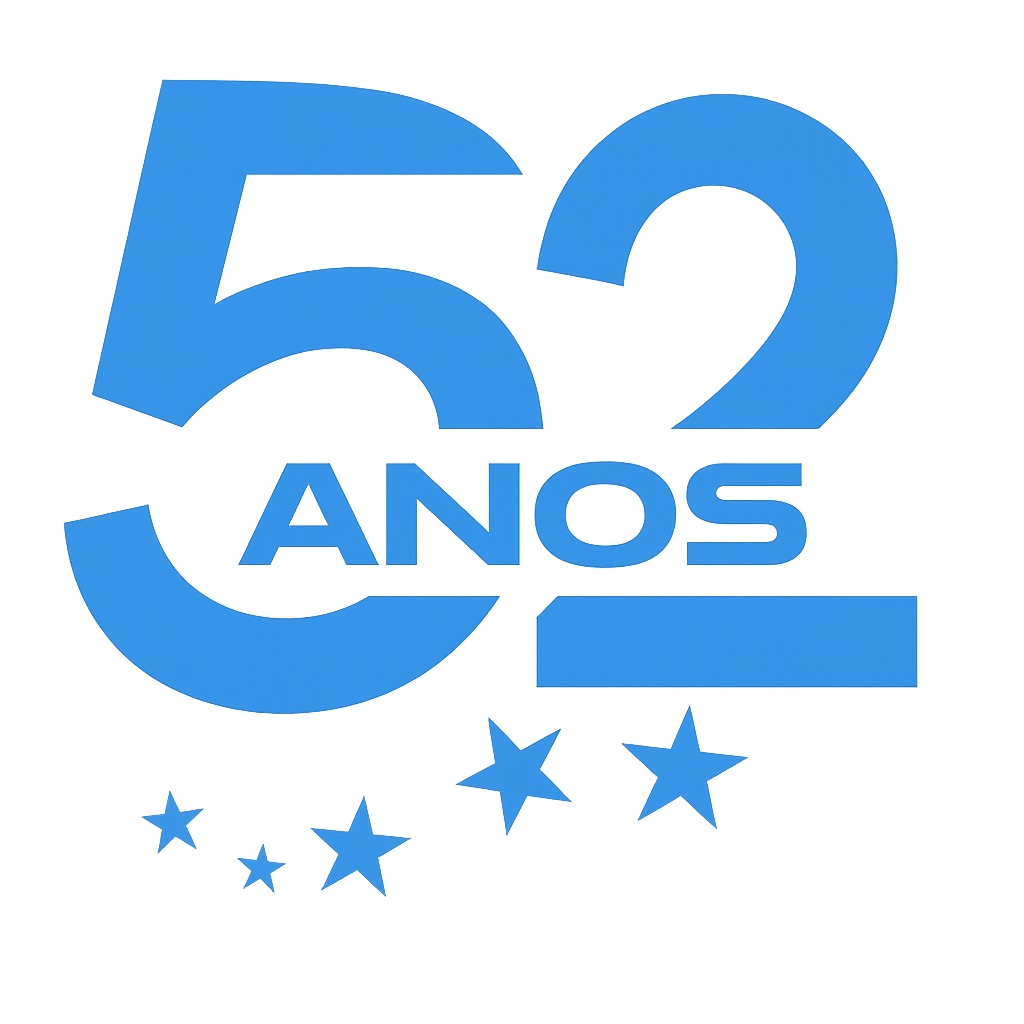Ronaldo Castilho
A história da cidadania no Brasil é marcada por uma longa e complexa trajetória de lutas, avanços e retrocessos. Desde o período colonial até a contemporaneidade, o país tem vivenciado um processo de ampliação dos direitos civis, políticos e sociais, mas também de persistentes desigualdades que desafiam a efetivação plena desses direitos. A cidadania brasileira, portanto, não é apenas um conjunto de normas jurídicas; é uma construção histórica e social, resultado de disputas e transformações que refletem o próprio desenvolvimento da sociedade.
Durante o período colonial, falar em cidadania seria quase um anacronismo. O Brasil, submetido à condição de colônia de exploração, vivia sob o domínio da Coroa portuguesa, e os direitos estavam restritos aos colonizadores e à elite proprietária. Os indígenas foram violentamente subjugados, e os africanos escravizados foram completamente excluídos do conceito de humanidade, quanto mais de cidadania. Aqui cabe evocar Jean-Jacques Rousseau, que no século XVIII afirmava que “o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado”. Essa frase sintetiza o contraste entre a ideia de liberdade natural e a realidade brutal da escravidão, que sustentou a economia e a estrutura social do Brasil por mais de trezentos anos.
No Império, o Brasil adotou uma Constituição em 1824 que, embora tenha criado uma estrutura política formal, manteve uma cidadania restrita. O voto censitário, limitado aos homens com renda mínima, excluía a maioria da população — mulheres, pobres, negros e analfabetos. John Locke, ao defender no século XVII o direito à vida, à liberdade e à propriedade, influenciou os ideais liberais que chegaram ao Brasil, mas na prática esses princípios só eram aplicados à elite branca proprietária. A abolição da escravidão em 1888, seguida da Proclamação da República em 1889, simbolizou um avanço jurídico, mas não significou, de fato, a inclusão dos ex-escravizados na vida cidadã. Como observou Karl Marx, as transformações políticas frequentemente mantêm as mesmas estruturas econômicas e de poder — e o Brasil republicano nasceu ainda profundamente desigual.
Durante a Primeira República, o país assistiu à consolidação do poder das oligarquias regionais e à manipulação do voto. A cidadania era formalmente reconhecida, mas socialmente esvaziada. Alexis de Tocqueville, ao estudar a democracia americana no século XIX, advertia que a verdadeira democracia depende não apenas de instituições, mas de costumes cívicos, participação e igualdade de condições. O Brasil carecia de todos esses elementos. O voto era controlado, e o povo, marginalizado das decisões políticas.
Com a Revolução de 1930 e o governo de Getúlio Vargas, surgiram as primeiras políticas sociais e trabalhistas — um passo importante rumo à cidadania social. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943, garantiu direitos como férias e jornada de trabalho regulamentada, inspirando o conceito de cidadania como inclusão social. Entretanto, tratava-se de uma cidadania concedida “de cima para baixo”, como diria o sociólogo José Murilo de Carvalho: os direitos vinham como dádiva do Estado, e não como conquista coletiva. Durante o Estado Novo, a repressão política coexistia com os avanços sociais, numa contradição típica das democracias frágeis.
Na Ditadura Militar, instaurada em 1964, a cidadania foi novamente restringida. O regime suprimiu liberdades civis, perseguiu opositores e censurou a imprensa. Hannah Arendt, pensadora alemã do século XX, afirmou que “o direito a ter direitos” é o fundamento da cidadania. No Brasil, esse direito foi negado a toda uma geração. Ainda assim, a resistência civil, as lutas estudantis e sindicais e o surgimento de movimentos sociais foram essenciais para manter viva a esperança democrática.
A Constituição de 1988 representou um marco histórico: a chamada “Constituição Cidadã”. Ela consolidou os direitos civis, políticos e sociais, reconheceu a dignidade da pessoa humana e instituiu mecanismos de participação popular, como plebiscitos e conselhos de políticas públicas. Inspirada nas ideias de Norberto Bobbio — que defendia que os direitos humanos são frutos de conquistas históricas e não dádivas —, a Constituição brasileira buscou assegurar que a cidadania se tornasse um valor universal e cotidiano. Contudo, mais de três décadas depois, o desafio continua sendo transformar a cidadania formal em cidadania real. O Brasil convive com desigualdade econômica, racismo estrutural, exclusão digital e descrença nas instituições democráticas. Boaventura de Sousa Santos, sociólogo português contemporâneo, alerta para o risco de vivermos uma “democracia de baixa intensidade”, onde os direitos existem no papel, mas não se materializam na vida concreta das pessoas. Esse diagnóstico se aplica bem ao Brasil: o cidadão tem direito ao voto, mas muitas vezes não tem acesso à saúde, educação ou segurança de qualidade.
Entretanto, o século XXI trouxe novos desafios que reconfiguram o próprio sentido de ser cidadão. A ascensão das redes sociais, ao mesmo tempo em que ampliou o acesso à informação, também se tornou terreno fértil para a desinformação e o discurso de ódio. Em um contexto em que as “fake news” influenciam decisões políticas e corroem a confiança nas instituições, a cidadania digital torna-se um imperativo. Ser cidadão hoje significa também saber discernir o verdadeiro do falso, o público do privado, o direito do abuso. O filósofo contemporâneo Byung-Chul Han afirma que vivemos numa sociedade da transparência e do cansaço, onde a hiperexposição e a competição constante fragilizam os laços coletivos. Isso mostra que a cidadania atual não depende apenas de direitos formais, mas também de maturidade ética e consciência crítica diante da avalanche de informações que moldam o comportamento social.
Ao observarmos a longa trajetória da cidadania no Brasil, percebemos que ela sempre esteve entrelaçada à luta contra a exclusão. Dos escravos libertos sem terra e sem direitos aos trabalhadores informais do século XXI, há uma linha de continuidade que revela o quanto o acesso à cidadania é também o acesso à dignidade. Como lembrava Rousseau, a verdadeira liberdade não consiste em fazer o que se quer, mas em obedecer às leis que nós mesmos criamos — ou seja, participar ativamente da construção da sociedade.
O Brasil precisa avançar de uma cidadania concedida para uma cidadania conquistada; de um Estado paternalista para um Estado parceiro; de um povo espectador para um povo protagonista. Isso exige educação política, consciência crítica e engajamento. A cidadania, afinal, não é um ponto de chegada, mas um caminho que se faz todos os dias, com cada voto, com cada ato de solidariedade e com cada voz que se levanta contra a injustiça. Como diria Paulo Freire, a educação é o ato político mais importante, pois “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”. Ser cidadão no Brasil, portanto, é um exercício de coragem e esperança — a esperança de que, um dia, a igualdade escrita nas leis seja também vivida nas ruas, nas escolas, nos hospitais e nas praças.
_________
Ronaldo Castilho é jornalista, bacharel em Teologia e Ciência Política, com MBA em Gestão Pública com Ênfase em Cidades Inteligentes e pós-graduação em Jornalismo Digital.